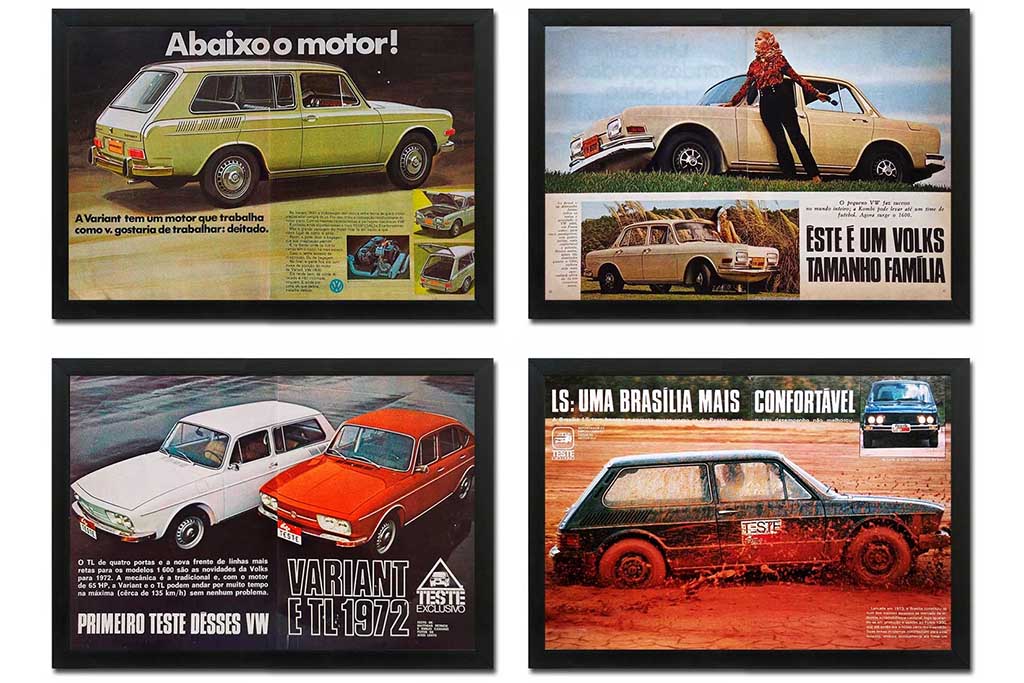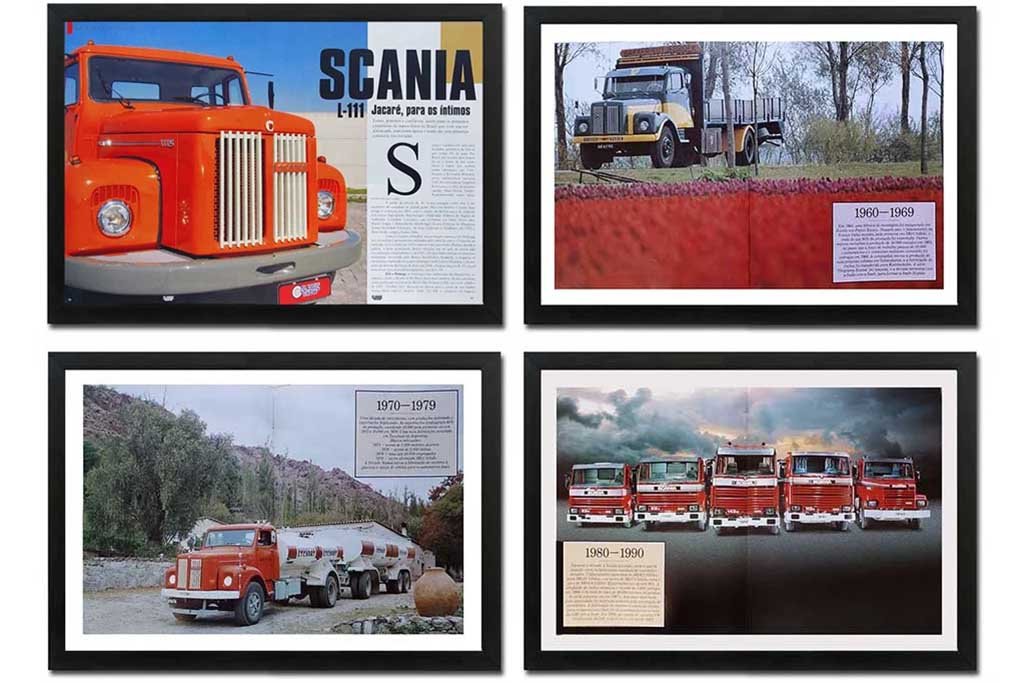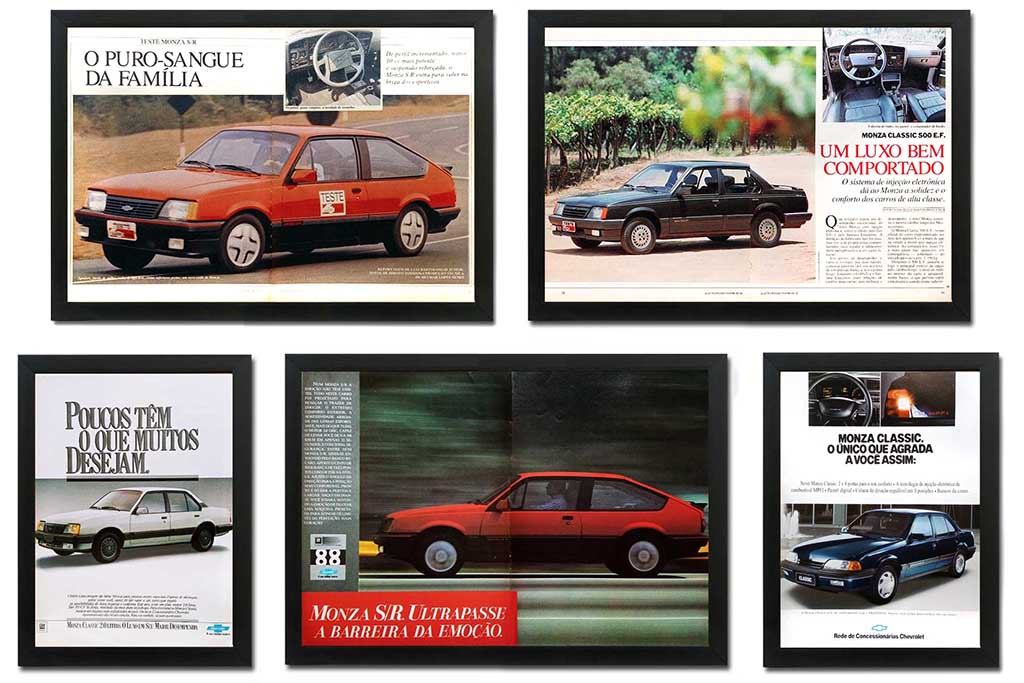Para calcular o custo por km de um veículo, uma só matéria não é suficiente — se incluirmos a depreciação no cálculo, pior
Nos tempos em que morei em Nova York, minha sogra nos mandou um presente. Em vez de pôr no correio, despachou como encomenda. Ela imaginou que o pudéssemos pegar em uma loja. Recebemos uma notificação para ir ao Aeroporto Kennedy. Tomamos o metrô, pegamos o Train to the Plain e chegamos ao prédio da Varig. Lá fomos mandados ao Cargo Building. Nenhum táxi nos quis levar porque era perto demais. Fomos a pé num frio de -5° e um vento de 40 km/h que nos empurrava para onde não queríamos ir.
Ao chegarmos, descobrimos ser hora do almoço e tivemos de esperar por meia hora atrás de um muro para nos proteger do vento. Quando, finalmente, fomos atendidos, soubemos que a encomenda veio num 747 cargueiro cheio de pneus para serem orbitados — ou, como se diz aqui, remoldados — na Goodyear. Mais uma hora para achar a carga, que não passava de uma caixinha de 30 cm x 30 cm x 40 cm e estava em meio a pneus de 240 kg cada.
Um Boeing 747 tem 16 pneus, cada unidade aguenta 22 orbitagens e cada pneu novo custa US$ 7.000; assim, só de pneus, cada decolagem desse avião custa US$ 456

Por sorte, havia um caminhão saindo naquele momento e passaria pela antiga Rota 66 que, em Manhattan, chama-se River Side Avenue, bem próxima de nosso apartamento. Foi o caminhoneiro que me explicou que os pneus aguentavam somente 18 decolagens, precisando então ser orbitados. Hoje os aviões têm motores elétricos para girar as rodas ainda no ar para evitar o arrasto durante o pouso, durando bem mais.
Um Boeing 747 tem 16 pneus e a orbitagem custa US$ 200. Cada unidade aguenta 22 orbitagens e cada pneu novo custa US$ 7.000, segundo o site da Goodyear. Assim, só de pneus, cada decolagem custa 16 x US$ 200 x 22 + US$ 7.000/400 = US$ 456. Será que é possível transferir o raciocínio para o cálculo do custo por quilômetro dos veículos terrestres? Será que dá para pensar que haja uma regra que abranja todos os seus tipos?
Esse tema interessa a todos, em especial aos que dependem do automóvel para trabalhar. Quando se vai comprar um trator, por exemplo, é preciso informar que pneus o usuário quer, pois existe um para cada tipo de operação. Quando se encomenda uma carreta, os pneus vêm orçados à parte, mas isso não acontece com os automóveis e mesmo a maioria dos caminhões, em que eles já são inclusos no preço de fábrica.
Mas não é só com essa peça que isso acontece. Carros já vêm com filtros, óleo lubrificante, fluido de freio e tudo o mais. Como calcular o custo por quilômetro? Uma só matéria não é suficiente. Esta só vai apontar as dificuldades em precificar serviços de transporte, ou mesmo as de um cidadão comum ao comprar um carro. Ao se discutir o GNV, já se causa furor, pois o usuário normal confunde custo, que é o esforço em produzir, com gasto, que é o ato de pagar. Só o carro a gás usar dois ou três combustíveis simultaneamente já confunde até os profissionais.
Depreciação e vida útil
Quando introduzimos a depreciação no cálculo do custo, a discussão é acalorada. Tradicionalmente, no Brasil, por questões tributárias, usa-se a depreciação linear, ou seja, em valores fixos até zerar o resíduo. Para automóveis, a não ser que se comprove a deterioração acelerada, é em cinco anos. Como assim? Então, depois de cinco anos o veículo não vale mais nada? Mas ele está funcionando e cumprindo seu papel, portanto, tem valor. De onde vem essa distorção? Principalmente, de se entender a manutenção como uma despesa e não como um possível investimento.
Com a lei 11.638/2006, a reavaliação do ativo fixo foi extinta e o empresário passou a ser obrigado a imobilizar a manutenção, recalculando a vida útil a partir dela. Parte-se do princípio de que ao retificar o motor do carro, por exemplo, sua vida útil aumenta — caso contrário, eu o jogaria fora. Isso redunda em que a depreciação tenha passado ao uso e não mais uma mera retirada de 20% ao ano. Assim, digamos que eu considere que o carro seja feito para rodar 200.000 km e que ele custe R$ 100.000 quando novo. Sua depreciação será de R$ 0,50/km.
A tendência é de o custo por km aumentar durante a vida útil de um veículo: a redução em um dado item só serve para a tomada de decisão quanto a mantê-lo ou vendê-lo

Suponhamos agora que, aos 100.000 km, quando o valor residual for de R$ 50.000, o motor tenha fundido e eu o mande fazer por um valor de R$ R$ 15.000. Imobilizando o serviço, o valor pula para R$ 65.000 a serem depreciados. Não posso esperar que a vida útil volte ao original porque o restante do carro se deteriorou. Assim, digamos que eu queira ficar com ele por mais 50.000 km além dos originais, voltando a vida útil aos 150.000 km. Seu custo será, somente com a depreciação (R$ 65.000/150.000 km), de R$ 0,43.
Pela redução de custo por quilômetro, a retífica parece vantajosa, mas só em relação à depreciação. Há outros serviços que não aumentam a vida útil do veículo, embora não possam ser encarados como despesa. Os pneus são um bom exemplo disso. Um bom jogo de pneus originais custa R$ 400 x 4 = R$ 1.600 e dura algo como 50.000 km. Assim, seu custo por quilômetro será de R$ 0,032 a serem somados ao valor conhecido do custo/km. O mesmo se pode dizer das trocas de embreagem, amortecedores ou pastilhas de freio. A tendência é de o custo aumentar durante a vida útil de um veículo. A redução em um dado item de custo só serve para a tomada de decisão quanto a mantê-lo no ativo imobilizado ou vendê-lo.
Por esse ponto de vista, quando o veículo deve ser trocado? Quando o custo/km do usado for maior que o esforço por adquirir um novo, visto que a decisão por um investimento de monta tem outros custos colaterais, que são inerentes às idiossincrasias de cada empresa.
Alguns teóricos adeptos da gestão econômica defendem que o valor residual previsto deva ser deduzido do custo, coisa com que não concordo, porque vender carros geralmente não é a atividade principal da empresa. O valor amealhado na venda, além de receita não operacional, é somente uma fonte de financiamento — ou para a compra do carro novo, ou para qualquer outro investimento. Numa locadora, a venda de carros usados deve ser considerada como atividade à parte, como se ela comprasse o carro usado da atividade de locação pelo seu valor residual, vendendo-o pelo valor de mercado, o que contribui para o resultado da empresa, porém, não na mesma atividade.
É justamente pela enorme quantidade de variáveis envolvidas que, sempre que me perguntam qual a melhor forma de calcular o custo por quilômetro de um carro, minha resposta é um sonoro, peremptório, cabal e definitivo “depende”.
Coluna anteriorA coluna expressa as opiniões do colunista e não as do Best Cars