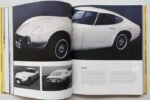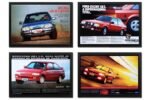Alguns conceitos econômicos explicam por que o “ouro negro” não terminará, apesar das crises desde os anos 70
O fim do petróleo tem sido uma espada pairando sobre a cabeça da civilização ocidental desde o fim da década de 1960. Geralmente, quando se trata da crise do petróleo e sua fatal extinção, parte-se do boicote ocorrido por ocasião da Guerra do Yom Kipur em 1973. Mas a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) já existia desde 1960, quando as empresas distribuidoras, como cartel, pagavam US$ 0,50 pelo barril de 159 litros.
Ao longo dos anos seguintes o preço subiu para US$ 1,30. Em 1971, quando o presidente dos Estados Unidos Richard Nixon (1969-1974) disse que o dólar não valia mais ouro, o preço subiu para US$ 3,00. Então veio a guerra, durante a qual os árabes dividiram os países entre inimigos, neutros e amigos. Os inimigos não recebiam nada, os neutros compravam a preço do mercado de ocasião (spot) e os amigos, incluindo o Brasil, recebiam a preço equivalente a 70% do mercado spot. O preço subiu sozinho até US$ 14,00.
A lei da oferta e da demanda não é tão simples: os economistas dizem que, quanto maior o preço, mais o produtor quer vender e menos o consumidor quer comprar
Foi no segundo choque, em 1979, que a OPEP inteira majorou os preços para US$ 39,00. Foi a consciência de que um dia a festa acabaria, os emires voltariam a ser meros mercadores sem espaço no mundo moderno. Mas o petróleo não acabou e o preço caiu. Hoje, considerando a inflação, o barril custa o mesmo que em 1968. Vivemos como se a crise nunca tivesse existido. São as questões ambientais que nos estão levando ao uso da eletricidade nos automóveis, não a falta de petróleo. O que aconteceu?

A lei da oferta e da demanda não é tão simples quanto se pensa. Os economistas dizem que, quanto maior o preço, mais o produtor quer vender e menos o consumidor quer comprar. Um gênio do fim do século XIX, o inglês Alfred Marshal (1842-1924), explicou que os produtos não se comportam da mesma forma perante a variação dos preços, em um efeito chamado de elasticidade, que afeta tanto a oferta quanto a demanda. Se o preço da borracha subir, por exemplo, o produtor plantará mais — mas só a produzirá dali a seis anos. Embora ele tenha reagido ao estímulo do preço, os efeitos são retardados.
Em outros casos, como o petróleo, é preciso saber onde ele está, o que é caro e incerto. Assim, dizemos que há produtos de baixa elasticidade entre preço e a oferta. Pelo lado dos consumidores, acontece algo em espelho: ninguém vai salgar mais a comida porque o sal está barato, nem vai deixar de usá-lo por ter encarecido. Com o petróleo é semelhante: os carros já estão na rua e as pessoas precisam do combustível de uma forma ou de outra. A coisa é muito mais complexa do que isso, mas por enquanto esse conceito basta. O petróleo é, portanto, inelástico dos dois lados e a OPEP, que nasceu de um confronto com outro cartel, sabia disso e aproveitou o momento.
Ocorre que o preço foi além do limite suportável — quanto maior o preço, maior a elasticidade. Por um lado, o consumo caiu e, por outro, incentivaram-se concorrentes já conhecidos como o álcool carburante.
Reservas: naturais e criadas
Aqui abro um parêntese para um relato apavorante. Meu pai, que nasceu em 1908 e já contava com 47 anos quando eu nasci, estudou engenharia de minas em Ouro Preto, MG, e civil na atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Com a aproximação da Segunda Guerra Mundial, o preço do ouro disparou e a Anglo American, dona das minas do Morro Velho e da Passagem em Mariana, resolveu reativar galerias. Meu pai e um idoso ex-escravo foram vistoriar as escoras, então de madeira podre, ameaçando ruir. Depois de alguns quilômetros por baixo da terra, a lanterna apagou.
Meu pai pediu ao outro que voltasse sozinho porque ele conhecia o caminho, conseguisse novas pilhas para então ir buscá-lo — tinha medo de esbarrar em algo. Nas trevas, as baratas saíram de seus esconderijos e subiram no meu pai, cobrindo-o todo. Ele não se arriscava a debater-se para não provocar um desmoronamento. Foram quatro horas de profundo terror até que, com o retorno do velho minerador e sua lanterna, as baratas fugissem. Essa história serve para ilustrar o conceito de reserva.
Fisicamente, para os geólogos, as reservas se dividem em medidas, estimadas e inferidas. Medidas são as palpáveis; as estimadas são as quantidades previstas a partir das condições geológicas, acrescidas à estatística a partir das amostras; e as inferidas baseiam-se basicamente nas condições geológicas. Os economistas veem as reservas como naturais e criadas. As naturais subdividem-se entre operacionais, quando viáveis ao preço atual, e ocultas, quando — apesar de conhecidas — não compensam economicamente.
As reservas naturais subdividem-se entre operacionais, quando viáveis ao preço atual, e ocultas, quando não compensam economicamente
Isso aconteceu com a exploração do petróleo em jazidas submarinas a partir do Golfo do México e do Mar do Norte, o que enriqueceu a Noruega e sustentou a renascença da Inglaterra como potência, sem contar, naturalmente, o Brasil. Em outras palavras, as reservas operacionais mais que decuplicaram no período e, como os agentes econômicos vivem das expectativas, os cartéis enfraqueceram-se e o preço caiu vertiginosamente.
Há ainda as reservas criadas. O reaproveitamento das latinhas de alumínio é uma reserva criada, porque compete diretamente com a mineração, que passa a ocorrer somente quando o preço compensar. Mas não são somente as latinhas: durante a Guerra os alemães usaram gasolina sintética produzida a partir do carvão e da água, o que equivaleu, no período, a criar reserva de hidrocarbonetos. Há também o folhelho pirobetuminoso, também conhecido por xisto, que contém hidrocarbonetos residuais que podem ser aproveitados a partir de solventes numa técnica chamada arrasto. Recentemente, surgiram o álcool de segunda geração e o diesel de cana entre outras fontes de combustível.
Assim, podemos dormir tranquilos porque o petróleo não vai acabar, apesar de não renovável numa escala humana. No entanto, os combustíveis nunca mais serão baratos, a despeito da abundância. É que justamente sua inelasticidade é aproveitada pelos governos ávidos por arrecadar. No mundo inteiro os impostos sobre eles são altíssimos e o diesel é mais caro que a gasolina, em grande parte dos países, porque se parte do princípio de que o aumento de eficiência deve ser compartilhado pela sociedade.
Some-se a isso o custo ambiental de continuar queimando seja lá o que for. Queimar não passa de uma oxidação acelerada, a ponto de liberar energia, e isso tira da atmosfera o oxigênio de que precisamos para continuar vivos. Que venha a eletricidade — mas não das termoelétricas, com as quais o custo ambiental continuará alto.
Coluna anteriorA coluna expressa as opiniões do colunista e não as do Best Cars